Aula 9. O final do Cenozóico.
Evolução dos litorais durante o final do Cenozóico.
Introdução
O texto que se segue funciona como a primeira parte deste tema. Este
texto corresponde, essencialmente, a uma introdução à
“lição de síntese” sobre a
evolução dos litorais durante o Cenozóico, em que é
apresentado como exemplo o caso da plataforma litoral da região do
Porto.
A
variação climática no final do Cenozóico: o
porquê da sua inclusão neste programa.
A nosso ver, os litorais nossos contemporâneos não podem
ser vistos desligadamente da sua evolução ao longo do
Quaternário. Isso acontece não só porque existem diversas
marcas ou relíquias dessa evolução que ainda são
patentes aos nossos olhos, mas também porque o passado é,
frequentemente, a chave do presente e contém as explicações
que clarificam muitos dos acontecimentos e da evolução do
presente.
Desde há muito tempo que estes temas nos apaixonam. Todavia,
actualmente, parece-nos que a sua relevância é ainda maior. Com
efeito, as discussões existentes acerca do aquecimento global e do
efeito de estufa têm tido um grande destaque nos media e entre a opinião pública. Parece-nos que, como
geógrafos físicos, através do “recuo” que
caracteriza aqueles que lidam com escalas cronológicas longas, poderemos
ter um papel no esclarecimento da opinião pública e no
equacionamento dos problemas que afectam a Terra enquanto sustentáculo
da nossa existência individual e colectiva.
A visão que perpassa em alguns textos recentes, dos quais
destacámos Riser (1999) e Williams (1998), tem, a nosso ver, um grande
interesse pedagógico, na medida em que faz interagir a ciclicidade da
hipótese de Milankovitch com a distribuição de continentes
e oceanos, comandada pela tectónica de placas. Daí decorrem, como
veremos, consequências importantes para a circulação
oceânica.
Também a tectónica alpina, criando novos relevos, vai
estimular o processo de acumulação de neves que se auto-alimenta,
pelo menos até um certo ponto.
O próprio aumento da produtividade biológica dos oceanos
e, até, a meteorização das rochas (acrescida devido
à formação das cadeias de montanhas) vai consumir CO2
atmosférico diminuindo o papel do efeito de estufa e criando, assim,
condições para o desenvolvimento das glaciações.
Sabemos que existem, ainda, muitas dúvidas, a este respeito.
Não sabemos se alguma vez se saberá explicar todo este processo.
Mas parece-nos que a discussão do mesmo pode ter um papel formativo
importante e levar os estudantes a interessar-se por estes temas e, desta
forma, a realizarem a aprendizagem da complexidade dos fenómenos e das
interacções em jogo, bem assim como do carácter
provisório que têm todas as explicações
científicas .
É evidente que aquilo que lhes será dito é apenas
uma introdução feita em linhas muito gerais, que poderá
funcionar como “aperitivo” para uma disciplina de Geomorfologia do
Quaternário que também existe no curriculum, mas cuja abertura em
termos efectivos, uma vez que também é uma disciplina de
opção, não parece provável a curto prazo, devido
à sobrecarga de trabalho dos docentes da área de Geografia
Física.
O
complexo jogo das interacções na criação de
condições de arrefecimento ao longo do Cenozóico
A propósito da variação do nível do mar
vimos como o clima começou a sofrer uma tendência geral para o
arrefecimento a partir de meados do Oligocénico (fig. 65).
Esse aspecto tem uma grande importância no registo sedimentar e
pode ajudar a distinguir entre as formações terciárias e
as quaternárias porque, de um modo geral, se passa de climas que
permitem grandes alterações (com caulinite e gibsite) a
formações aluviais de tipo torrencial, em que os conteúdos
em caulinite e gibsite diminuem drasticamente.
Juntamente com esse arrefecimento aparecem oscilações que
se vão tornando cada vez mais intensas durante a segunda parte do
Pliocénico (curva da direita, respeitante ao registo encontrado em
terra). Essa tendência acentua-se durante o Quaternário, com
fortes variações climáticas (glaciações e
períodos interglaciares, fig. 66) que se traduzem em importantes
variações do nível do mar.
Aparentemente (M. Williams et al., 1998), a modificação
da distribuição dos continentes e oceanos, decorrente da
movimentação das placas litosféricas pode ter tido um
papel muito importante no condicionamento da circulação marinha
em volta da Antárctida.
No início do Cenozóico não havia gelo na
Antárctida. As temperaturas deveriam estar à volta de 18°C
nos mares envolventes. Porém, a subida da Austrália, em latitude,
há 50 MA (fig. 173), bem como a abertura do estreito de Drake abriram
uma passagem que permitiu a formação da corrente circumpolar.
Esta passou a rodear completamente a Antárctida e a funcionar como uma
barreira, impedindo as correntes quentes das latitudes baixas de atingirem
estas latitudes. À medida que se vai dando o arrefecimento, a
criação de mantos de neve vai propiciar o aumento do albedo e o
processo vai intensificar-se por uma retroacção positiva.
Em meados do Miocénico havia já um inlandsis na Antárctida (comprovado pelos blocos transportados pelo gelo
que se encontram no registo geológico).
O reforço dos contrastes térmicos, por sua vez, aumenta a
velocidade dos ventos. Esse facto pode intensificar o upwelling e a produtividade biológica e, por essa via, aumentar a
captação do CO2 pelos oceanos e reduzir a quantidade do CO2
existente na atmosfera.
No final do Miocénico há um arrefecimento que vai
corresponder a uma regressão de 40-50m. Este processo é
concomitante com a secagem do Mediterrâneo, com formação de
enormes quantidades de evaporitos[1]. Este evento foi designado
como “a crise de salinidade do Messiniano” e provocou uma
diminuição geral da salinidade do mar em 6%. Esse facto permite
que o congelamento da água do mar se pode dar a temperaturas mais altas.
E este é mais um fenómeno que reforça o arrefecimento
global, ao permitir a criação de mares gelados com um albedo
importante.
O
aparecimento das condições para as glaciações do
Quaternário
Depois de um certo aquecimento no início do Pliocénico as
condições climáticas deterioraram-se (fig. 174). No final
do Pliocénico começam a encontrar-se blocos transportados pelo
gelo incluídos no registo sedimentar do hemisfério Norte, o que
significa que as glaciações até aí confinadas ao
hemisfério sul e à Gronelândia[2] começam a estender-se
para as grandes áreas continentais do hemisfério Norte.
Esse facto marca o início do Quaternário. É
possível que o fecho do estreito do Panamá tenha
contribuído para o desencadeamento da corrente do Golfo. Ora, o aporte
de águas aquecidas para latitudes elevadas tem como consequência
uma intensificação da queda de neve, o que tem
consequências para o aumento do albedo e para a criação de
retroacções positivas para a glaciação.
Há cerca de 2,4 MA (fig. 65, repetição) já
havia mantos de gelo nos continentes do hemisfério Norte. A partir
daí observam-se alternâncias rítmicas com um período
próximo de 41.000 anos. Essa situação de
oscilações frequentes e relativamente pouco intensas vai
até cerca de 0,9 MA. A partir daí as oscilações frias
tornam-se muito mais intensas e o respectivo período passa a rondar os
100.000 anos. Essas variações, que são deduzidas da
análise do conteúdo em isótopos de oxigénio dos
sedimentos dos fundos marinhos[3], vêm comprovar a
influência que as variações na órbita da Terra, e as
consequentes variações da quantidade de calor que é recebida
nos diferentes locais, devem ter na determinação das
variações climáticas do passado.
Na figura 175 é possível analisar os diferentes ciclos
que podem influir neste processo: a excentricidade da órbita, com um
período de 100.000 anos, a obliquidade da eclíptica, com um
período de 41.000, e a precessão dos equinócios, cuja
periodicidade pode variar entre 23.000 e 19.000. A conjugação dos
diferentes ciclos produz uma curva da variação da insolação,
em Julho, entre 60 e 70° de latitude Norte, que se adequa muito bem
às variações de temperatura efectivamente verificadas.
Parece evidente, todavia, que as influências exteriores
não podem explicar tudo. Doutro modo, os ciclos
glaciação/interglaciar teriam existido ao longo de toda a
história da Terra, o que não aconteceu (cf. fig. 63). Por outro
lado, as variações na insolação são muito
pouco intensas e é bastante discutido qual o mecanismo pelo qual
são amplificadas de molde a originar as variações
climáticas com que nos deparamos durante o Quaternário.
Uma das hipóteses mais recentes a esse respeito explora uma
ideia já relativamente “antiga” segundo a qual há uma
correlação entre as manchas solares e períodos de
arrefecimento climático. A explicação para essa
correlação poderá estar no facto de que os raios cósmicos
produzem iões que, juntamente com as pequenas partículas da baixa
atmosfera podem criar as bases para o desenvolvimento de nuvens baixas. Estas
têm como resultado final arrefecer a Terra.
Por isso, um factor que aumente a intensidade dos raios cósmicos
provocará um arrefecimento. Ora, as manchas solares relacionam-se com
tempestades magnéticas e reforçam a magnetosfera que, por sua vez
protege a terra dos raios cósmicos. Este processo complexo poderá
explicar por que motivo um menor número de manchas solares (por exemplo,
o mínimo de Maunder que coincidiu com a Pequena Idade do Gelo) acaba por
desencadear um processo de arrefecimento (Lomborg, 2002).
Além disso, o arrefecimento da Terra não se prolonga
indefinidamente. As temperaturas nunca desceram mais do que 5-9° abaixo do
actual. Isto significa que há um feed-back
negativo a partir de certos limiares. Com efeito, se a temperatura descer
muito, a evaporação reduz-se e a queda de neve também, o
que pode contribuir para um balanço negativo de acumulação
para os glaciares envolvidos, diminuir a intensidade do albedo e provocar uma
diminuição da área glaciada ou mesmo o seu
desaparecimento.
Com efeito, há uma notória dissimetria no estabelecimento
de uma glaciação: a entrada numa época fria é muito
lenta, mas a saída da glaciação é muito
rápida (fig. 66, repetição), o que mostra a
existência de um mecanismo de feed-back
negativo que controla a deglaciação. No processo de arrefecimento
funciona um feed-back positivo. Esta
circunstância desenha uma evolução em forma de “dente
de serra” que é típica da evolução
climática durante o Quaternário (fig. 66,
repetição).
É muito interessante pensar nas relações
existentes entre a evolução climática durante o fim do
Würm e a situação da terra relativamente ao ponto da sua
órbita em que se verifica o perihélio.
Com efeito, actualmente o perihélio situa-se no início de
Janeiro. Significa isso que a grande obliquidade dos raios solares para o
hemisfério Norte é compensada por uma maior proximidade do Sol.
Por isso, os invernos do hemisfério Norte não são muito
frios. Porém quanto ao hemisfério Sul, é preciso pensar
que o verão austral acontece quando a Terra está no
perihélio e o inverno austral quando ela está no afélio.
Ora isso vai representar verões tendencialmente mais quentes e invernos
mais frios do que os do hemisfério Norte.
Justamente, a partir de 11.000 BP a situação estava
invertida. Deste modo, o verão do hemisfério norte acontecia com
a Terra no perihélio: esse facto acelera a fusão dos glaciares do
nosso hemisfério. A discussão detalhada desta
evolução pode ser seguida em Riser (1999, p. 202 e seguintes) e
é muito interessante porque explica, entre outras coisas, as
variações climáticas que se sucederam no Sahara no final
do Würm e no início do Holocénico.
Limites
e métodos de estudo do Quaternário
Os limites cronoestratigráficos utilizados para o
Quaternário variam bastante consoante os autores. Tem sido muito
referido o limite de 2,4 MA (Riser, 1999). Porém, já em Williams
et al., (1998) o limite proposto é de 1,8 MA. Como se vê na figura
65, ambas as hipóteses são defensáveis, embora Riser
defenda que o limite de 2,4-2,5 MA é mais utilizável para o
estabelecimento de correlações inter-regionais porque corresponde
a um importante episódio frio e seco que está amplamente
documentado.
E dado o avanço dos conhecimentos neste domínio, é
provável que, no futuro, nos possamos inclinar por uma ou por outra com
base em novos dados que hoje ainda não se encontram ao nosso
alcance….
Na figura 176 podemos observar a proposta de Riser (1999) para
cronologia do Quaternário. Já na figura 179 encontramos uma
cronologia pormenorizada sobre o Tardiglaciário e o Holocénico.
Parece-nos muito importante que sejam fornecidas aos estudantes tabelas deste
tipo que lhes permitam orientar-se no meio das datações e
tentativas de correlação que se encontram na literatura
especializada.
É importante referir alguns dos métodos que podem ser
utilizados no estudo do Quaternário (datações por
potássio-árgon, C14, termoluminescência e luminescência
estimulada opticamente[4], paleomagnetismo,
dendrocronologia, estudo das varvas, etc.). É sobretudo importante dizer
que eles se aplicam a horizontes cronoestratigráficos diferenciados e
que alguns deles ainda apresentam um grau de insegurança apreciável,
para além dos custos elevados.
Porém, dada a complexidade do estudo do Quaternário e a
possibilidade de haver recorrência de fácies é evidente que
toda a investigação acaba por se confrontar com a necessidade de
obter datações.
Evolução
do clima durante o Pleistocénico médio
Existe um grande contraste entre a vegetação e a fauna
fini-terciária e a do final do Quaternário. Essa
alteração fez-se ao longo do tempo, à custa de numerosas
oscilações. Porém, uma fase fria e seca cerca de
2,4-2,5MA, bem documentada em todo o mundo (Riser, 1999) estabelece
definitivamente os regimes climáticos típicos do
Pleistocénico e por isso é usado como limite em muitos locais.
Um importante episódio frio e seco foi assinalado na China,
através de um loess excepcionalmente espesso e grosseiro. Na mesma
altura, o planalto do Tibete parece ter sido soerguido algumas centenas de
metros, o que mais uma vez mostra a interferência entre fenómenos
climáticos e tectónicos na produção de eventos
geomorfológicos documentados no registo sedimentar.
As fases interglaciares do Pleistocénico inferior e médio
correspondem a climas quentes com uma vegetação densa. Uma vez
que as condições eram essencialmente biostáticas havia uma
redução acentuada dos fenómenos erosivos em
comparação com os períodos frios, em que, quer a
ablação produzida pelos glaciares quer as condições
periglaciares existentes na sua periferia originavam quantidades muito
apreciáveis de sedimentos detríticos transportados pelos rios
até ao litoral.
Esse facto terá produzido mudanças importantes na
tipologia dos litorais que disporiam de uma maior quantidade de elementos
grosseiros durante os períodos frios e de materiais mais finos e em
menor quantidade durante os períodos interglaciares.
No interglaciar Mindel-Riss (estádio 11 ou Holstein, fig. 176)
teria havido um clima bastante mais quente do que o actual, o que se traduziria
em praias fósseis situadas a altitudes que atingiriam os 20m nas
regiões estáveis. Pensa-se que essas temperaturas anormalmente
altas para um interglaciar poderiam explicar-se, tal como no caso do
interglaciar actual (Holocénico) por uma fraca obliquidade do eixo da
Terra, um perihélio no Outono e uma fraca excentricidade da
eclíptica.
Estas condições teriam permitido uma fusão parcial
da calote da Gronelândia e da parte ocidental da Antárctida.
O Pleistocénico recente:
o Eemiense
No interglaciar Riss-Würm (estádio 5, Emiense), o
nível do mar seria 4-5m mais alto que o actual, nas zonas
estáveis. A curva isotópica da figura 178 mostra que terá
havido 2 máximos de temperatura (e portanto do nível do mar, ver
nota supra) à volta dos 125.000 BP, separados por uma ligeira
regressão. A mesma figura permite dizer que o nível do mar, nessa
altura, terá atingido cotas ligeiramente superiores à actuais.
O
Pleistocénico recente: a última glaciação
O crescimento das calotes de gelo ter-se-á iniciado por volta de
115.000 BP. Na figura 178 é possível identificar diversas fases,
sempre com o desenho típico de “dente de serra”, mas com uma
tendência geral para um aumento do conteúdo em O18, o mesmo
é dizer, para o estabelecimento de uma glaciação. É
possível identificar diferentes fases (fig. 177) a partir das quais
foram definidos os estádios isotópicos que correspondem,
actualmente, a termos correntes no domínio do Quaternário, cujo
sentido é necessário que os estudantes apreendam para poderem
descodificar a literatura recente sobre este assunto.
Dentro das glaciações o clima não foi uniforme.
Assim, é possível identificar os chamados
“estadiais”, que correspondem a fases de frio intenso e os
interestadiais, que são períodos frescos, em quer o clima sofre
uma notória suavização.
Também durante o Tardiglaciar foi possível identificar
ciclos sob a forma de “dentes de serra” (fig. 180). Este ciclos
têm colocado muitos problemas aos investigadores porque dado o
período de duração relativamente curto, não podem
ser associados às variações orbitais.
Os eventos de Dansgaard-Oeschger (Williams et al., 1998) duram entre
1.000-3.000 anos. Podem corresponder a mudanças de 8° na temperatura
média.
Os eventos de Heinrich correspondem a uma escala de 5.000-12.000 anos.
Correspondem a conjuntos de interestadiais progressivamente mais frios que
terminam numa imensa descarga de icebergs.
Com efeito, a possibilidade de obter uma melhor resolução
no estudo e na datação destes fenómenos, permitiu perceber
que cada ciclo pode decompor-se numa fase de arrefecimento progressivo em que o
tamanho da calote aumenta. No estádio final desse crescimento acontece
uma libertação maciça de icebergs que induz um
arrefecimento à superfície da água do mar e diminui a
precipitação no continente próximo. Assim, esta fase fria
é seguida por um rápido aquecimento que inicia um novo ciclo.
O máximo de extensão dos glaciares teve lugar entre
21.000-17000 BP.
O
Tardiglaciar e o Holocénico
No período compreendido entre 13.000 e 12.000 BP verifica-se um
aquecimento em que as temperaturas atingem valores quase semelhantes às
do Holocénico (Bølling-Allerød, fig. 180) com um curto
período frio de permeio (Dryas antigo). Nessa altura, no
hemisfério norte a insolação, durante o verão era
superior à actual e continuou a aumentar até a um máximo
em 11.000 BP. O nível do mar seria cerca de 40 m inferior ao nível
actual (fig. 69).
O Dryas recente interrompe este período de aquecimento. O Dryas
recente durou 1000 anos e implicou avanços dos glaciares escandinavos da
ordem de 30-40km. O nível do mar tornou a descer para cotas de -60m
(fig. 69).
Foi este o último período frio. Depois dele inicia-se o
Holocénico. Aos 10000 BP, o Atlântico já não tinha
gelo à superfície, durante o inverno. As últimas moreias
escandinavas têm datações de 9.200 BP.
Durante o Holocénico as oscilações
climáticas são mais frequentes e muito menos intensas do que nos
períodos anteriores (fig. 180).
Algumas fases de arrefecimento coincidem com fases de
libertação de icebergs no
Atlântico Norte, segundo uma frequência de 1430 anos. O
último evento teria sido a Pequena Idade do Gelo (1450-1890).
Os
litorais durante o final do Cenozóico: enquadramento geral e problemas
metodológicos
Como acabámos de ver, à complexidade da
evolução dos litorais, anteriormente tratada, dada a sua
situação de interface, há que juntar o diastrofismo, que
geralmente tem lugar em faixas de transição entre o continente e
o oceano (fig. 74), as variações climáticas que
aconteceram nos últimos tempos do Cenozóico e as
variações eustáticas delas decorrentes.
Na figura 181 podemos ver um modelo dos diferentes tipos de
terraços a que as variações cenozóicas do
nível do mar podem conduzir. Já vimos que o processo de
arrefecimento climático e de constituição dos inlandsis levou a que no final do Miocénico tenha havido um arrefecimento
que vai corresponder a uma regressão de 40-50m. A fusão total dos
glaciares da Antárctida e Gronelândia provocaria uma subida do
nível do mar da ordem dos 65-80m (A. Hallam, 1992). Juntando a esses
valores os 120-140 m de variação do nível do mar deste o
máximo do Würm até à actualidade, obtém-se um
valor entre 185 e 220m de diferença entre o nível mais alto e o
nível mais baixo do mar dentro do Cenozóico. Quer isto dizer que,
contando apenas com as variações eustáticas, podemos
encontrar restos de litorais cenozóicos separados por essa
diferença de cotas.
Como estamos, actualmente, num período interglaciar, portanto
caracterizado por um nível relativamente alto do mar admite-se que, de
acordo com os valores acima referidos, poderemos ter antigas linhas de costa
submersas até uma profundidade de 120-140m. As linhas de costa acima do
nível actual do mar corresponderiam a altitudes de 65-85m, isto é
à altura de água que foi subtraída aos oceanos devido
à formação dos inlandsis da
Antárctida e da Gronelândia. Por isso,
admitindo que houve, durante o Terciário, um processo de crescimento dos
inlandsis, mesmo nas áreas ditas
“estáveis”, a tendência é para que os
depósitos mais antigos se situem a cotas mais elevadas. Como
é óbvio, se aceitarmos como correctos os valores de 65-85m para a
espessura da camada de água subtraída ao mar desde o
Miocénico o critério para essa estabilidade será que os
depósitos do Miocénico inferior não devem ultrapassar os
65-85m.
Significa isto que, quando se ultrapassa um valor dessa ordem de
grandeza, começa a haver uma grande probabilidade de a área em
questão ter sofrido um levantamento tectónico (fig. 182). A esse
respeito, a análise da curva da Fairbridge (fig. 183) torna-se bastante
esclarecedora: os pontos mais altos da curva apresentam uma tendência
persistente para a descida, o que poderá relacionar-se com o efeito
combinado do eustatismo e do diastrofismo.
Por exemplo, na Calábria existem oito
linhas de costa quaternárias que se desenvolvem até 177m de
altitude (Riser, 1999), o que significa que se trata de áreas que
estão a sofrer uma subida.
Como seria de esperar isso sucede em muitas outras áreas. Se analisarmos a distribuição dos
depósitos quaternários nas colunas estratigráficas de
algumas cartas geológicas portuguesas, ou mesmo no trabalho de
síntese de Ribeiro et al. (1979)
apercebemo-nos que as formações quaternárias mais antigas
(Siciliano I) se encontram a altitudes de 100-110. Esse facto de per si já nos indica que elas estão muito
provavelmente soerguidas. Mas se isso é assim, então como
utilizar as altitudes para caracterizar e fazer a cronologia dos
depósitos? É óbvio que a ideia das praias levantadas que
se podem seguir do Minho até ao Algarve, que foi referida logo no
início deste programa cai pela base. Com efeito, se os depósitos
estão soerguidos, então é improvável que o seu
soerguimento seja perfeitamente homogéneo ao nível de todo o
país. Poderá haver algumas homogeneidades, sim, mas apenas a
nível local, quanto muito regional e nunca a nível do
país.
Na plataforma litoral da região do Porto, os depósitos
presumivelmente pliocénicos situam-se a altitudes de 124m. Como, em
princípio, de trata de depósitos formado no Pliocénico,
quando o nível eustático já tinha descido algo em
relação à situação pré-glaciar (o inlandsis da Antárctida existiria desde meados do Miocénico, cf.
Williams et al., 1998) o seu soerguimento poderá ser avaliado da
seguinte forma:
Admitindo que a fusão dos inlandsis
corresponderia a uma coluna de água de 82 m (Williams et al., 1998) e
que, no Pliocénico uma espessura entre 60 e 40m já tinha sido
subtraída aos oceanos. Abstraindo dos efeitos tectono-eustáticos,
teríamos:
124 - (82-40)=82
ou 124 – (82-60)=102m
Isto significa uma subida no mínimo de 82m e no máximo de
102m para os depósitos de fácies planície aluvial litoral
(portanto próxima do nível de base) da região do Porto.
Essa subida terá que ser explicada essencialmente pelo diastrofismo.
Porém, também há sectores
litorais a sofrer subsidência (fig. 75). Como vimos atrás, a
região de Veneza está a sofrer subsidência, de tal forma
que o Eemiense, que geralmente aparece entre 2 e 8m, se
encontra aqui a uma profundidade de –70m (Dawson, 1992).
Como é evidente, os depósitos emersos das áreas
“estáveis” ou aqueles que se encontram soerguidos eram os
únicos que eram facilmente observáveis. Os depósitos
cenozóicos em vias de afundimento deverão estar embutidos uns nos
outros, sendo os mais antigos os que se situam a maior profundidade. Por isso,
só por sondagens podem ser observados. É perfeitamente natural,
por isso, que a cronologia do final do Cenozóico das faixas litorais
tenha sido estabelecida com base em depósitos essencialmente
soerguidos…
Com efeito, as designações “clássicas”
para o final do Cenozóico (Calabriano, Siciliano, Milaziano, Tirreniano)
foram definidas no Mediterrâneo, área muito activa tectonicamente,
e onde os depósitos do Cenozóico estão deformados. No
fundo, a atribuição “crono-estratigráfica”
baseada nos critérios do eustatismo foi um grande equívoco, de
que sofreram, durante décadas, os estudos geológicos e
geomorfológicos sobre o Cenozóico do litoral.
Daí a reflexão de Ferreira (1983) a propósito da
hipótese de C. Teixeira sobre a submersão das rias galegas:
“Nesse artigo (1944: Tectónica plio-pleistocénica do
noroeste peninsular) o autor debate-se com uma evidente contradição
que consiste em tentar provar a existência de movimentos
tectónicos recentes com base na presença ou ausência de
praias e terraços, datados pela sua altitude “.
Todavia, o eustatismo existe, como vimos na altura própria e
também no início desta aula.
Se reflectirmos sobre a tendência geral de subida dos continentes
relativamente aos oceanos devida a razões de ordem isostática
(fig. 74) é possível que, em alguns casos, as taxas de subida se
assemelhem (Barbosa e Barra, 2000) e que, por isso, depósitos aproximadamente
da mesma idade possam estar a altitudes semelhantes.
Porém, não podemos esquecer a existência de uma
tectónica diferencial. Como veremos no final desta aula, dedicada ao
exemplo do estudo da plataforma litoral da região do Porto, os
fenómenos de neotectónica não podem ser esquecidos e a
área em questão teve, aparentemente, um comportamento diferencial
ao longo do Cenozóico.
Quando se está em situação de levantamento
tectónico, como é evidente, a erosão predomina sobre a
acumulação. Por isso, alguns dos depósitos podem ter sido
destruídos. A sequência dificilmente estará completa (vide
Ferreira, 1983). Além disso, os depósitos geralmente são
muito pouco espessos. Trata-se, geralmente, de pequenos afloramentos, muitas
vezes remexidos, com uma interpretação que tem que ser muito fina
e cautelosa, por causa das recorrências de fácies e da
incidência da neotectónica.
Naturalmente que a melhor forma de compreender este puzzle passa pela datação absoluta dos depósitos. Mas as
técnicas disponíveis não se podem aplicar a muitos deles.
Por exemplo, no litoral do Noroeste da Península, a acidez dos solos fez
desaparecer qualquer vestígio de carbonatos. Apenas métodos do
tipo da termo-luminescência podem ser empregues… e muitas vezes
não existem nestes depósitos, frequentemente cascalhentos, areias
com os requisitos necessários para esse tipo de datação.
Todavia, em certos locais privilegiados, uma subida tectónica
intensa criou uma espectacular escadaria de terraços de coral. Um caso
muito conhecido é o da península de Huon na Nova Guiné
(figuras 184 e 185, Pethick 1984). Esses terraços podem ser datados
através do método do Urânio-Tório (que permite
datações até a um limite de 500.000 anos). Adicionalmente,
existem dados de O18 (http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/coral/newguinea.html) que permitem representar as
variações de O16/O18 nos recifes de coral fóssil e
também no coral vivo.
A datação dos diversos níveis de terraços,
juntamente com o conhecimento de alguns pontos chave de uma curva bem
estabelecida de variação do nível do mar permitiu calcular
uma curva do levantamento tectónico (fig. 185, C) e deduzir, a partir
daí, uma curva derivada da variação do nível
do mar durante os últimos 400.000 anos. Isto é: foi
possível separar a movimentação tectónica e o
eustatismo, e isso corresponde à resolução de um problema
que afectou os estudiosos destes temas durante décadas, desde que se
teve consciência do interesse do estudo dos terraços marinhos e
das interferências quase inextrincáveis entre tectónica e
eustatismo na sua formação.
Noção
de terraço. Formação dos terraços do litoral
Segundo Moreira (1984), “terraço marinho é um
depósito de sedimentos litorais (de praia ou de plataforma) que aparece
a um nível diferente do que foi construído, devido a
variações do nível do mar”. Nesse sentido, os
terraços submersos da figura 181 também são
terraços marinhos.
A figura 186 mostra, de forma esquemática, as fases de
formação de um terraço marinho:
- Período
interglaciar: aumento do declive da vertente devido ao escavamento feito
pelo mar na sua base. Formação de uma plataforma de
erosão com uma cobertura sedimentar de origem marinha;
- Fase de
glaciação: Regressão marinha. O depósito
marinho é coberto por uma formação solifluxiva de
origem continental;
- Novo período
interglaciar: a transgressão marinha faz recuar a vertente criando
uma nova arriba. O antigo depósito marinho foi transformado num
terraço coberto por um depósito solifluxivo.
A figura 187 mostra uma fotografia de uma situação
idêntica à descrita no esquema. Este tipo de
ilustração parece-nos muito interessante porque permite uma
apreensão visual imediata de um fenómeno relativamente complexo.
Além disso, este esquema é particularmente útil para a
compreensão do que se passa na plataforma litoral da região do
Porto, de que nos ocuparemos noutro local.
Bibliografia utilizada
ANDERSEN, B. G.; BORNS, H. W. JR., (1994) - The Ice Age World, Scandinavian University Press, Oslo, 208 p.
BARBOSA, B. A. P. S., e BARRA, A., (2000) – Problemática da
cartografia dos depósitos quaternários, Estudos
do Quaternário, nº 3, APEQ, Lisboa, p. 15-20
BIRD, E. C. F., (2001) – Coastal
Geomorphology. An introduction, J. Wiley & Sons, 322 p.
DAVEAU, S., (1993) - A Evolução
Quaternária da Plataforma Litoral, O Quaternário em Portugal.
Balanço e Perspectivas. Lisboa, APEQ, Colibri, p. 35-41.
FERREIRA,
A. B. (1983) - Problemas de evolução
geomorfológica quaternária do noroeste de Portugal,
Cuadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe, nº 5,
VI Reunion do Grupo Español de Traballo de
Quaternario, A Coruña, p. 311-330.
FERREIRA, A. B., (1993) – As rañas em
Portugal: significado geomorfológico e estratigráfico, O
Quaternário em Portugal. Balanço e Perspectivas. Lisboa, APEQ, Colibri, p. 7-15.
FRANCO, H., (1998) - Millennial scale climate variability: A low-order
model relating Heinrich and Dansgaard-Oeschger events, http://es.epa.gov/ncer_abstracts/fellow/98/franco.html
(arquivo encontrado em Novembro de 2002).
LOMBORG, B., (2002) – The skeptical environmentalist -
measuring the real state of the World, Cambridge Univ. Press, 515 p.
MOREIRA, M.E.S.A., (1984) - Glossário de
Termos Usados em Geomorfologia Litoral, Estudos de Geografia das Regiões Tropicais, Nº 15) - C. E. G., Lisboa, 167 p.
PETHICK,
J. - (1984) - An Introduction To Coastal
Geomorphology, London, Edward
Arnold, 260 p.
RIBEIRO,
A. et al., (1979) - Introduction
à la Géologie Générale du Portugal, Serviços Geol. Portugal, Lisboa,
114 p.
RISER, J., (1999) - Le Quaternaire;
Géologie et Milieux Naturels, Dunod, Paris, 320 p.
WILLIAMS, M. A.J., DUNKERLEY, DE DECKKER, D. L. P., KERSHAW, A. P., STOKES T. J., (1998) - Quaternary Environments,
2ª ed. Edward Arnold, London, 329 p.
http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Giants/Milankovitch/milankovitch_2.html
http://es.epa.gov/ncer_abstracts/fellow/98/franco.html
http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/coral/newguinea.html
http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/pubs/tudhope2001/tudhope.html
http://www.usd.edu/esci/Figuras/BluePlanet.html
Aula Prática:
Análise sedimentológica (granulometria e morfoscopia) de
depósitos fluviais, de terraços marinhos e de depósitos
solifluxivos.
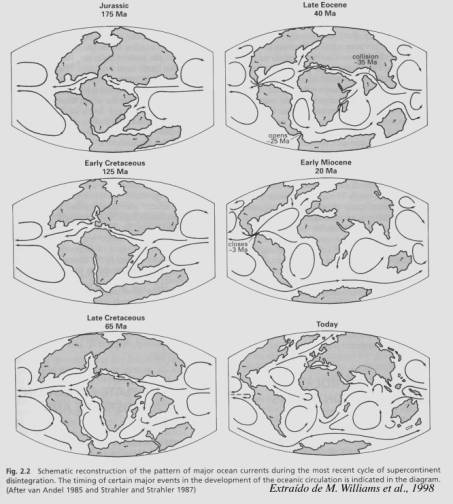
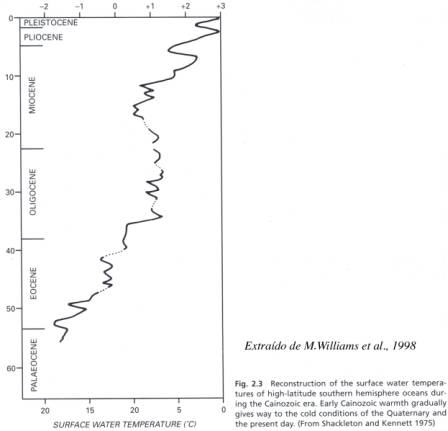
Figura 174:
Reconstituição das temperaturas de superfície dos oceanos
nas altas latitudes setentrionais durante o Cenozóico. As temperaturas
elevadas do início do Cenozóico deram, gradualmente, origem a
condições frias durante o Quaternário.
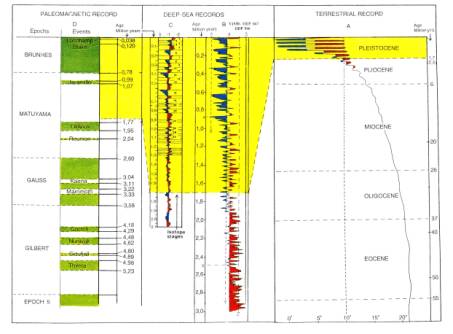
Figura 65
(repetição): Variação climática no final do
Cenozóico (extraído de Andersen e Borns, 1994)
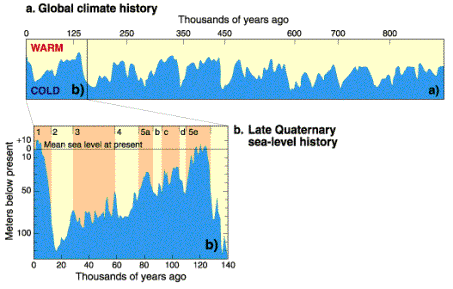
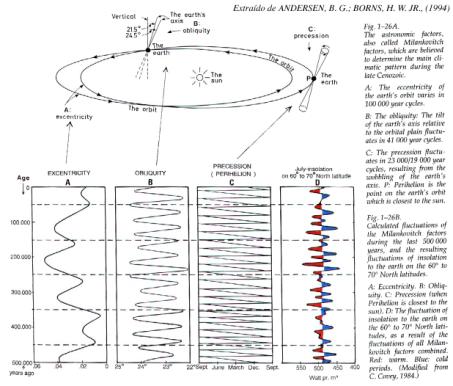
Figura 175: Os ciclos
de Milankovitch
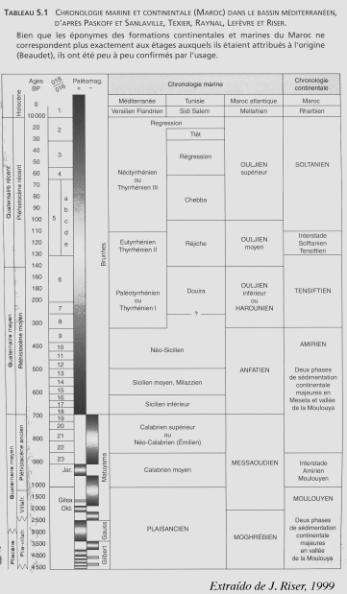
Figura 176: Proposta
de Riser (1999) para uma cronologia do Quaternário
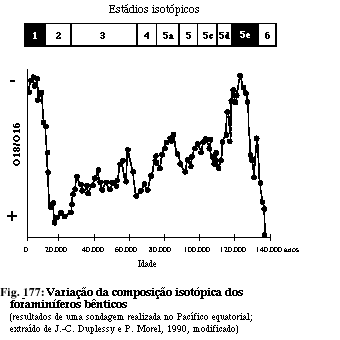
Figura 177: Os
estádios isotópicos: os últimos 140.000 anos
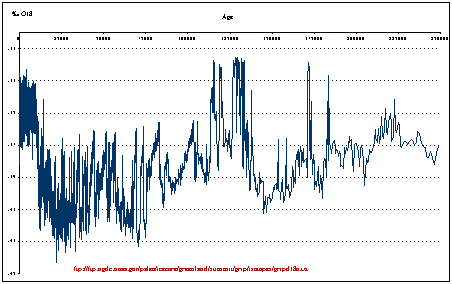
Figura 178: Curva
isotópica para a Gronelândia. Dados extraídos de ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/paleo/icecore/greenland/summit/grip/isotopes/gripd18o.txt
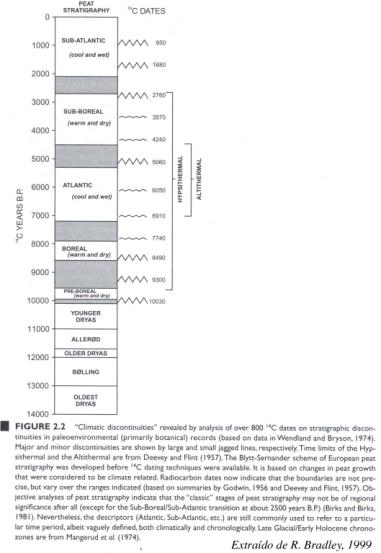
Figura 179:
Cronologia do Tardiglaciar e do Holocénico
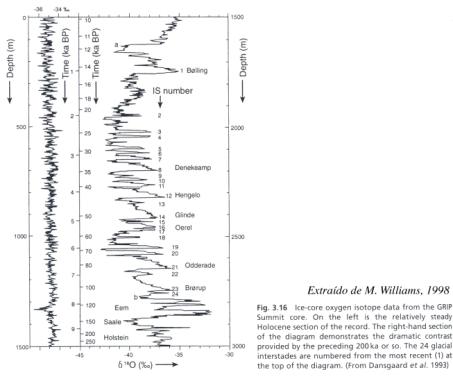
Figura 180: Curvas
isotópicas do Tardiglaciar e do Holocénico
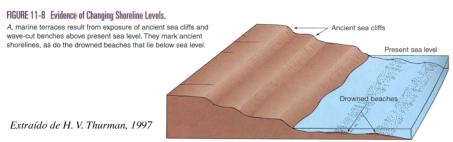
Figura 181:
Evidência de variações do nível do mar:
terraços marinhos emersos e submersos
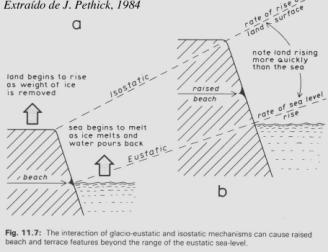
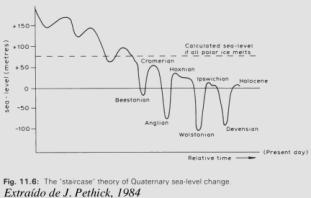

Figura 184: Os
terraços de coral na Península de Huon (Nova Guiné)
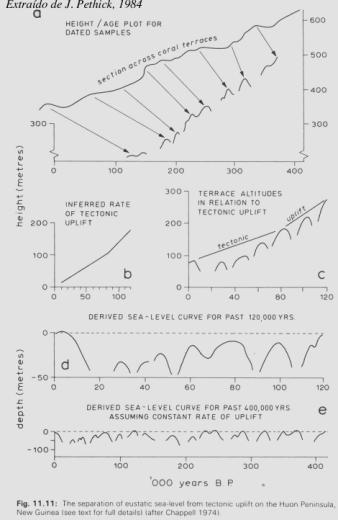
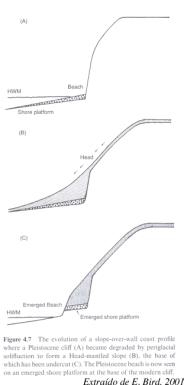
Figura 186: Processo
de desenvolvimento de um terraço marinho

Figura 187:
Fotografia da situação descrita na figura 186.